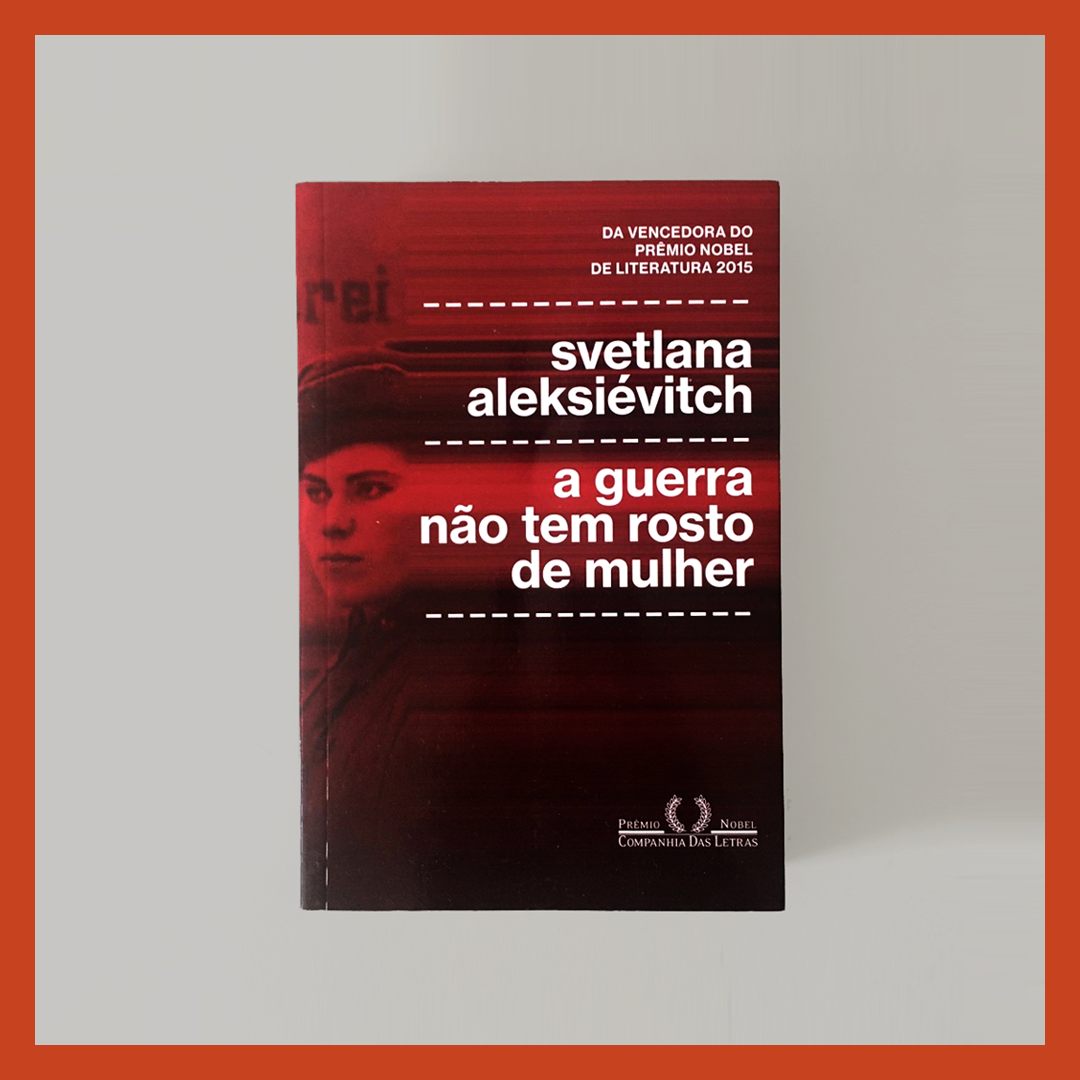MULHERES VÃO À GUERRA
Em Atenas e Esparta, mulheres já lutavam. Na Primeira Guerra Mundial, inglesas eram aceitas na Força Aérea Real, e em vários países atuavam em hospitais militares. Ainda assim, as versões que conhecemos das guerras são aquelas contadas por homens, em que as mulheres ficam à espera dos heróis. Em “A guerra não tem rosto de mulher”, a bielorrussa Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura em 2015, dá às mulheres o protagonismo.
Com mais de 200 testemunhos, o livro constrói um retrato da vida de mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial, quando muitas assumiram papéis considerados masculinos, como o de franco-atiradoras ou o de condutoras de tanques. O conflito teve uma participação feminina sem precedentes.
“Cresçam, meninas… Vocês ainda estão verdes…”, ouviam. No entanto, diante do avanço da guerra, os homens se viram obrigados não apenas a ceder espaço em território que dominavam, como também a reconhecer os feitos das mulheres na linha de frente. Criadas desde cedo para dar e manter a vida, elas aprendiam a tirá-la. As estratégias de combate ou os atos de heroísmo, contudo, não foram objeto de interesse de Svetlana, que queria saber o que essas mulheres pensavam e sentiam, do que tinham medo, como era viver sob a sombra da morte.
Lançado na URSS em 1985, durante a Perestroika, “A guerra não tem rosto de mulher” teve trechos censurados. “Depois de livros como esse, quem vai lutar na guerra? Você está humilhando a mulher com seu naturalismo primitivo”, dizia o censor, como relembra Svetlana na edição brasileira, de 2016, que tem alguns dos trechos restituídos.
Nascida em 1948, Svetlana Aleksiévitch é jornalista e escritora. Além de “A guerra não tem rosto de mulher” – sua estreia literária –, é autora de “Vozes de Tchernóbil” (1997) e “O fim do homem soviético” (2013), entre outros livros. É uma das principais intelectuais de oposição ao governo de Aleksandr Lukashenko, que vem perseguindo e prendendo opositores. Depois de ter sido intimidada por desconhecidos que rondavam a sua casa, deixou o país em setembro, aparentemente para fazer um tratamento de saúde na Alemanha.
O que nos impedia de lembrar? Uma intolerância à lembrança…”
“Fomos para o front com 18, 20 anos, e voltamos com 20, 24. No começo era muita alegria, depois o medo: o que vamos fazer na vida civil? Um medo diante da vida em tempos de paz… As amigas da universidade já tinham se formado, e nós? Não estávamos adaptadas a nada, não tínhamos nenhuma formação profissional. Só conhecíamos a guerra, só o que sabíamos fazer era a guerra. Queríamos nos afastar da guerra o quanto antes. Rapidinho usei o capote para costurar um casaco, troquei os botões. Vendi os coturnos em uma feira e comprei sapatos. Na primeira vez que usei um vestido, me afoguei em lágrimas. Eu mesma não me reconhecia no espelho, estava havia quatro anos usando calças. Para quem eu ia dizer que estava ferida, lesionada? Você experimenta dizer, depois quem vai lhe dar um emprego, quem vai casar com você? Ficávamos caladas feito peixes. Não confessávamos para ninguém que tínhamos lutado no front. Mantivemos a ligação entre nós, trocávamos cartas. Depois de trinta anos começaram a nos homenagear… Convidavam para encontros… No começo nos escondíamos, não usávamos nem as medalhas. Os homens usavam, as mulheres não. Os homens eram vencedores, heróis, noivos, a guerra era deles; já para nós, olhavam com outros olhos. Era completamente diferente… Vou lhe dizer, tomaram a vitória de nós. Na surdina, trocaram pela felicidade feminina comum. Não dividiram a vitória conosco. Isso era ofensivo… Incompreensível… Porque, no front, os homens tinham uma relação maravilhosa conosco, sempre nos protegiam; na vida de paz, nunca vi nos tratarem bem assim. Na retirada, às vezes nos deitávamos para descansar na terra nua, e eles próprios ficavam de guimnastiorka e nos davam seus capotes: ‘Meninas… Tem que cobrir as meninas…’. Se encontravam um pedacinho de algodão, de curativo: ‘Tome, pode servir para algo…’. Dividiam a última torrada. Não vimos nada além de bondade e afeto na guerra. Não conhecemos outra coisa. E depois da guerra? Fiquei calada… Calada… O que nos impedia de lembrar? Uma intolerância à lembrança…”
::
Sargento Valentina Pávlovna Tchudáieva, comandante de canhão antiaéreo nas tropas soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial, em trecho de “A guerra não tem rosto de mulher”, de Svetlana Aleksiévitch. Edição da Companhia das Letras, com tradução de Cecília Rosas.
CECÍLIA ROSAS COMENTA “A GUERRA NÃO TEM ROSTO DE MULHER”
“O fato de a gente saber que as pessoas estão contando histórias da vida delas é bastante poderoso, e cria certo senso de responsabilidade. Eu achei um privilégio poder, de alguma maneira, ajudar essas histórias a chegarem a lugares novos.”
Tradutora de “A guerra não tem rosto de mulher”, de Svetlana Aleksiévitch, Cecília Rosas conta como foi trabalhar com os diversos relatos de veteranas da Segunda Guerra Mundial reunidos no livro. Há uma diversidade de experiências, com histórias não apenas sobre o que geralmente é difundido – combates, mortos e feridos –, como também sobre o dia a dia e episódios comuns da juventude. “Elas vão mostrando como a vida continua acontecendo nas frestas da catástrofe”, diz. Pequenas marcas distinguem uma voz da outra, mas, afirma Cecília, apesar da multiplicidade de vozes, há uma unidade que se cria ali. “É um equilíbrio delicado manter essas marcas e ao mesmo tempo ficar atento para que essas marcas não se percam.”
::
Cecília Rosas é doutora em literatura e cultura russa pela USP e tradutora. Verteu obras de Púchkin, Dostoiévski, Chalámov e Liudmila Petruchévskaia, entre outros. Além de “A guerra não tem rosto de mulher”, traduziu outros dois livros de Svetlana Aleksiévitch: “As últimas testemunhas” (2018) e “Meninos de zinco” (2020).